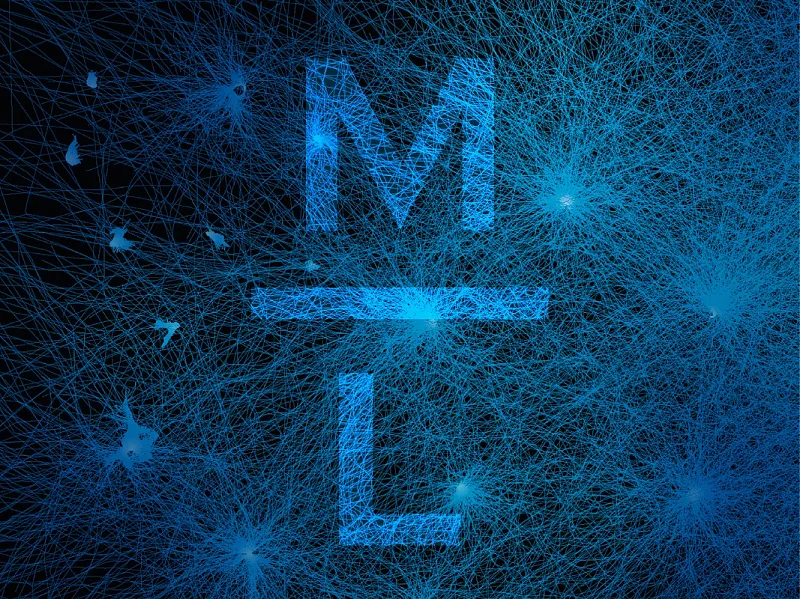Rui Patrício, sócio da Morais Leitão, foi orador no congresso “50 anos de Direito em Portugal: Anatomia de um Sistema em Transição” que decorreu nos dias 19, 20 e 21 de março, no auditório na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Abaixo, encontra-se o discurso que esteve na base da intervenção do advogado no congresso.
A Publicização Penal
Quando do convite para este congresso subordinado ao tema “50 Anos de Direito em Portugal: Anatomia de um Sistema em Transição”, e no painel dedicado à organização judiciária e aos Direitos Penal e Processual Penal, não hesitei na aceitação, mas hesitei na escolha daquele que seria, dentro do tema, o “meu” tema. Muitos se (me) ofereciam e oferecem, sendo certo que pensei em vários, ainda que supondo que os senhores professores que, comigo, integram o painel tratariam alguns, e seguramente muito melhor do que eu. Temas como a constitucionalização das garantias processuais e de uma certa forma de processo na Constituição da República de 1976, o Código Penal de 1982, o Código de Processo Penal de 1987, a reforma daquele em 1995, a progressiva expansão do Direito Penal para novas áreas ou a cada vez maior antecipação da tutela penal, a evolução jurisprudencial por exemplo na questão das medidas de coação, o papel do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em questões substantivas e adjetivas penais, a dispersão e a instabilidade das fontes de Direito, a erosão das garantias do processo penal, a partir de 2007 e sobretudo a partir de 2013, ou a relação entre o Penal e a Mera Ordenação Social – e os problemas próprios deste ramo, pensando aqui sobretudo nas chamadas, porventura com imprecisão ou até impropriedade, “grandes contra ordenações” –, um de ultima ratio outra de “penúltima” (embora cada vez menos, um e outra); et cetera.
Muitos temas possíveis, mas escolhi outro, não só pela suposição mencionada sobre a possibilidade de outros os tratarem ou a alguns deles e muito melhor do que eu seria capaz, mas também porque outro se me impôs e se me impõe, à uma porque tenho sido dele, por razões profissionais, observador privilegiado (quando não mesmo ator), à outra porque se trata de um aspeto muito marcante dos 50 anos sobre os quais aqui refletimos, talvez não o mais marcante numa perspetiva diacrónica, mas um dos mais, porventura o mais, marcante da atualidade e, também, aquele que poderá determinar alterações mais profundas no sistema, sendo afinal o motor de uma futura (ou já em curso) transição – que, aliás, temo que seja contrária ao espírito que hoje aqui invocamos e, digo eu, celebramos; o que significa também, afinal, que esse tema importa para todos ou alguns daqueles temas que eu em cima enunciei como temas que me ocorreram para este dia e para este evento.
E que tema é esse, que escolhi para aqui tratar, de forma necessariamente sucinta, quase em jeito de telegrama, e mais para interrogar do que para afirmar? É a publicização penal, no sentido, não da questão académica (aliás com muito pouco interesse, a meu ver) de saber se o Direito Penal (em sentido estrito ou amplo) é Direito Público ou Direito Privado, e questões conexas, mas sim publicização no sentido da progressiva relevância de matérias penais e processuais penais e de processos penais concretos na esfera pública, uma emergência da questão penal, digamos assim, que deixou de pertencer apenas à academia, aos tribunais e aos operadores, para passar a estar, quase à razão diária, no espaço público. É disso que quero aqui tratar, e, o que é mais, dos efeitos que isso tem ou pode ter no que respeita às atividades legislativa, governativa e judicial, bem como os desafios que coloca ao Estado de Direito Liberal e Democrático, e, bem assim, no que interpela a academia, os estudiosos e diversos saberes. Repito, considero que essa emergência do penal no espaço e no tempo públicos constitui, se não o fenómeno mais marcante nesta área nos último 50 anos, pelo menos o mais marcante na atualidade e, sem dúvida, o mais desafiante no que respeita ao futuro.
Vejamos o que se pode dizer, em breves minutos. Durante muito tempo, até há cerca de 30 anos, mais coisa menos coisa, a questão penal apenas surgia no espaço e no tempo públicos (local, regional ou nacional) através da crónica jornalística a que podemos chamar, permita-se e perdoe-se, de cordel, crónica de natureza policial, e o mais das vezes de faca e alguidar, e só transcendia este registo muito episodicamente, mas mesmo aí, à semelhança daquela crónica policial, a relevância pública cingia-se quase sempre à discussão dos factos ou supostos factos em apreciação. Mas, a partir de meados dos anos 90 do século XX, entre nós, a relevância pública de casos e questões penais para lá da crónica policial (embora esta se mantenha, em paralelo) deixou de ser episódica e, depois, tornou-se frequente, e hoje é muito frequente, por vezes quase diária. E, além da frequência, há outra característica determinante: a discussão vai muito para além dos factos ou supostos factos, incluindo, e amiúde centrando-se, nas soluções e nos problemas jurídicos substantivos e processuais, o que sucede tanto mais quando os processos envolvem pessoas com notoriedade, pessoas de “alto perfil” (traduzindo a expressão de sistemas anglo saxónicos), e/ou quando os processos envolvem temas que têm ou aos quais se dá significativa relevância política, económica e/ou social.
Ou seja, o paradigma alterou-se, (i) porque aumentaram a atenção e a emergência no tempo e no espaço públicos, também (ii) porque os casos que suscitam as questões são de natureza muito diferente dos casos que no passado vinham a terreiro (claro que todos sabemos que passámos do penal dos powerless para o penal dos powerful, o paradigma dos marginalizados deu lugar ao paradigma das elites, o white collar submergiu o blue collar), e sobretudo (iii) porque a atenção e a discussão vão muito para lá dos factos ou supostos factos, envolvendo, e muitas vezes dando protagonismo, às questões e às soluções de Direito Penal e de Direito Processual Penal. E digo questões, e não questão, no sentido de sistema ou visão sistémica, porque, embora tudo isto questione o sistema e o force no sentido da mudança, quase nunca, ou nunca (ouso dizer), se tem em conta (seja porque a natureza do espaço público o não permite, seja porque os intervenientes o não querem ou sabem, et cetera) a questão global e uma abordagem sistemática. O tempo e o espaço atuais são marcados pela rapidez, pela impaciência, pela superficialidade, pela desintermediação, pela inconsistência, pela volatilidade e pela fragmentariedade – uma modernidade líquida, cada vez mais líquida, para usar, adaptando, a expressão de Bauman. E a discussão sobre estas matérias não poderia deixar de ser, também, marcada por tudo isto; e é, e muito.
Mas não é por isso que essa discussão ocupa menos espaço e tempo e é menos relevante, e também não deixa de ter, antes tem de modo crescente, importância para a perceção sobre a justiça penal em particular e a justiça em geral, ao ponto de moldar de forma determinante a perceção sobre esta, não só como sistema de justiça no sentido operacional, digamos, mas também como questão de Estado e até de civilização. Se me é permitida a liberdade retórica, nos últimos 30 anos, e especialmente nos últimos 15, grosso modo em termos de datação, o penal teve em Portugal o seu coming out, sendo que não só saiu do armário, isto é, saiu de um espaço reservado, um espaço de iniciados (até, em certa medida, opaco), mas também saiu para a luz do dia de um modo afirmativo e orgulhoso, ao ponto de ocupar hoje um lugar central e até de moldar a identidade do sistema de justiça.
Ora, assim sendo, eu diria, e continuando num registo breve e sincopado, que se impõe, primeiro, ter em conta que tudo isto existe, e, em segundo lugar, estudar tudo isto, sendo matéria, a meu ver, e salvo melhor opinião, que deve interpelar muito a academia (e hoje aqui estamos em ambiente também académico), matéria que deve emparceirar com o estudo, porventura ainda privilegiado, das questões clássicas. Sendo certo, em terceiro lugar, e principalmente, que se impõe perguntar se esta publicização, na expressão que usei (o Senhor Conselheiro Cunha Rodrigues, em conferência a que assisti muito recentemente, inspiradora, diria “contexto”), se projeta nas ou influencia as funções e atividades legislativa, judicial, governativa (ou outras de natureza decisória). E, se sim, como? Formulemos, pois, questões, em jeito de enunciado do problema, e também de desafio ao estudo e à reflexão.
Esta publicização condiciona o legislador? De que modo ou modos? E, se sim, favorece soluções refletidas, sistemáticas, coerentes, ou antes conduz a soluções emergentes do casuísmo e marcadas pelo imediatismo? Para além naturalmente das necessidades emergentes do devir pós-industrial, esta publicização não tem sido e não será um poderoso indutor da expansão penal e da erosão da subsidiariedade? E quantas soluções processuais penais dos últimos anos, e previsivelmente futuras, não decorrem de um pensamento enviesado que arranca de episódios de um caso concreto, perdendo de vista a floresta, em atenção à visão (amiúde parcelar e/ou desfocada) da árvore? Não é verdade, como certeiramente já advertia Silva Sánchez no seu célebre texto de 1999, que a sensação social de insegurança é muito amiga da expansão penal (e eu diria, olhando para o nosso tempo presente, mais do que sensação de insegurança, a sensação social de ineficácia e de injustiça, à mistura com ressentimento sócio judiciário; e diria também, para além de expansão penal, musculação processual penal)? E, ainda o mesmo professor espanhol, no mesmo texto, se calhar mais premonitório do que ele então esperaria, não nos alertou também para o papel dos chamados “gestores atípicos da moral”, bem como para a identificação da maioria social como a vítima do delito e, ainda, para a configuração da sociedade do bem-estar como uma sociedade de sujeitos passivos?
Sujeitos passivos que são, acrescento, em homenagem a tudo quanto se tem evidenciado nas últimas décadas – e tem merecido atenção de filósofos, sociólogos, antropólogos e psicólogos, mas ainda não suficientemente de juristas –, consumidores e espectadores, sendo certo que o penal, os temas penais (em sentido lato, substantivo e adjetivo) têm um papel de muito relevo nisso. Aliás, deixando de citar um professor de direito e passando a citar um cinéfilo, a questão penal de um certo caso e, também, a questão penal em geral (ou as questões penais, incluindo aqui a dimensão processual) passaram a ser e são agora, e de modo crescente, muito lá de casa, são muito lá de casa de todos e de cada um de nós; vivemos com elas, são-nos familiares, e isso gera uma ideia de acessibilidade e de participação, deixando de ser terreno científico, por um lado, e por outro casa de sacerdotes e de iniciados, para passar a ser algo de que todos têm uma ilusão de compreensão, de intervenção e de domínio; são os “nossos” casos legais e são as “nossas” questões penais, todos e todas muito lá de casa – para citar o título de magnífico livro sobre cinema de João Bénard da Costa, de 2007. Era esse o cinéfilo a que me referia, e a esse livro onde, entre outros, fala dos seus filmes e do seu cinema, e da sua relação antiga, doméstica, possessiva com eles, de deslumbramento, de paixão e de cumplicidade. Passa-se precisamente o mesmo, hodiernamente, entre a vox populi e as questões penais, e isso não é, não pode ser, julgo eu, isento de consequências. Mais a mais, num tempo em que (repito) imperam, entre o mais, a impaciência e a desintermediação. E num tempo em que – como já alguns disseram – vivemos num narcisismo de massas, por um lado, e, por outro, com a verdade no bolso, esta sob a forma de um pequeno aparelho que tem as respostas e as soluções à distância de um clique.
Ou seja, e em suma, cumpre perguntar e estudar – e tirar consequências do apuramento daí resultante – acerca da marca que esta publicização deixa na atividade legislativa, seja no que se legisla, seja no modo como se legisla, e esta segunda vertente não é menos importante do que a primeira. Repito, no que se legisla e, também, no modo. Melhor, digo, no tempo e no modo.
E, por outro lado, ainda quanto a legislar, outro vasto e rico campo de interrogação e estudo prende-se com questões concretas – para além das grandes questões de principiologia e de Estado – que cumpre enfrentar já ou a muito curto prazo, como sejam, entre muitos outros exemplos possíveis (um mar de exemplos e de problemas, que carecem de enfrentamento): a reserva que se impõe às profissões forenses, o segredo de justiça nas vertentes substantiva e adjetiva, avultando aqui também a investigação da sua violação, a natureza de prazos até agora tidos por indicativos ou ordenadores, as questões de oportunidade no processo penal, a reconfiguração do sistema de fiscalização concreta no TC e o recurso de amparo; et cetera.
Por outro lado, saindo do campo legislativo, e deixando aqui e agora de lado a possível influência na dogmática e a inspiração que pode dar a certas soluções ou inversões de padrão científico (e estou por exemplo a pensar num exemplo recente em matéria de corrupção e prazo prescricional – aqui o digo com suficiente consciência de provocação), no terreno do judiciário e do judicial cumpre também olhar com atenção para a questão que aqui me ocupa, querendo saber qual o grau de influência e qual o modo. E há que distinguir, pelo menos, dois campos de questões.
Um primeiro, mais óbvio, e até em certo sentido mais natural, prende-se com questões concretas, nas quais sempre a ressonância pública / social de alguma forma se projeta (é preciso depois ver é com precisão o como e o quanto), como sejam: a prevenção geral em matéria de determinação da pena, o alarme social enquanto perigo que constitui condição de aplicação de medidas de coação, as regras da experiência comum, seja como critérios de apreciação da prova direta seja como instrumentos de operação da chamada prova indireta (e em todos os casos são cristalização de padrões culturais comportamentais e de representação, sendo a relação entre representação e comportamento assaz complexa), ou a consciência da ilicitude, a sua falta e o erro sobre a proibição; entre muitas outras.
Mas há um segundo campo, menos óbvio e seguramente mais controverso, mas para mim muito mais importante, porque transversal, mas também porque nuclear na decisão judicial e, portanto, no coração do sistema. Trata-se de saber se, como e em que medida esta publicização influencia a decisão judicial, seja (i) por força de representações sobre o caso concreto, seja (ii) por força de representações sobre questões penais substantivas ou adjetivas, que a possam moldar, seja, ainda, (iii) por força da inarredável pré-compreensão (incontornável em qualquer processo cognitivo e decisório, não haja ilusões, e muito relacionado com outra questão que também costuma ser negligenciada, que é a questão das emoções), seja, também, (iv) por força de mecanismos mais ou menos conscientes de adesão ou, ao invés, de receio quanto aos fundamentos e/ou ao sentido decisório; seja, até, (v) por força da adesão a alguma forma do chamado ativismo judiciário e judicial, seja, finalmente, (vi) pela imersão, mais ou menos consciente, em caminhos de simbolismo penal ou processual.
Tudo isto é e pode ser controvertido, concedo, tudo isto é complexo, igualmente concedo, embora depois do caminho trilhado pelos autores da hermenêutica filosófica (desde Heidegger, desde Gadamer, et cetera) a pré-compreensão me pareça pouco controversa, e muito do que referi também, por exemplo o papel das emoções (já Aristóteles na sua obra Retórica lhe dedicou todo o livro II); mas concedamos que pode ser controvertido, porém não pode é ser um tabu, tem de ser perguntado, enfrentado, tem de ser estudado. São questões, a meu ver, muitíssimo importantes, em si mesmas, e também muito em relação com isto a que chamei publicização penal, e por isso especialmente aqui as trago. E o estudo deve ser cuidado e cruzando saberes, indo beber à psicologia, à filosofia, à sociologia, et cetera, até às neurociências.
E interessa, não só para compreender melhor a decisão, mas também para as questões da formação dos decisores, da fundamentação, das regras. E as perguntas, e estudo e o enfrentamento também têm de ser feitos com desassombro e com coragem. Desassombro e coragem são virtudes capitais para todas estas coisas, e coragem é uma palavra que quadra bem, alias, com a efeméride que aqui hoje nos trouxe. Por falar nisso, duas pequenas, conquanto muito intencionais, provocações:
Se é verdade que, em matéria de depoimentos, a nossa lei processual penal não admite a reprodução de vozes públicas e de convicções (artigo 130.º do Código de Processo Penal), até que ponto as mesmas podem contaminar decisões judiciárias ou judiciais, de forma mais ou menos sub-reptícia, sobretudo em face da assinalada publicização penal? Não sei exatamente, mas posso, e devo, perguntar e podemos, e devemos, estudar.
E a segunda questão, pequena mas provocatória: até que ponto devemos recordar hoje, com sublinhado, a lição fundadora de Ésquilo, na terceira parte da Oresteia, Euménides? Parte essa na qual, depois do percurso traçado em Agamémnon e em Coéforas, as outras duas partes, o tribunal é fundado, sob o magistério de Atena, contra a ideia de vingança e, também, contra a ideia de vozes públicas e de aparências.
Poderia também, e julgo que se impõe igualmente esse estudo, fazer referências a temas de natureza criminológica, como a anomia, agora no quadro da desconfiança no sistema e na frustração como um dos efeitos da publicização penal a que venho aludindo. E o campo é vasto na Criminologia, basta regressarmos às várias matérias relacionadas com as instâncias formais de controlo, nomeadamente as que se prendem com a sociologia da ação jurisdicional. Só aqui temos todo um terreno de possibilidade, e de obrigação julgo eu, de análise e de estudo. Outra questão seria a chamada neocriminalização e os seus mecanismos. Ficam apenas as referências, em parênteses.
Mudemos agora de plano, passando do judicial para o executivo. A maximização penal – sobretudo no sentido de clamor pela intervenção máxima das instâncias formais de controlo, como se tudo devesse ser objeto de escrutínio através do processo, e de clamor pela “eficácia” (um mantra, a “eficácia”) – gera inibição na ação governativa, e na ação decisória em geral, porque é da natureza humana que essa maximização gere medo e que esse medo (ou uma simples e prudente gestão de risco) conduzam à inação, além de que essa mesma maximização gera insegurança e desconfiança, e uma e outra são inimigas da vontade e da capacidade de ação. Ou seja, e adaptando muito livremente o dito de O Leopardo, é preciso que nada se faça para que se não corra qualquer risco. Mais a mais numa sociedade da transparência, para usar, melhor para parafrasear, a expressão de Han, sociedade essa em que a obsessão com a transparência se salda sobretudo em vigilância e em controlo, e em que inclusive os modelos de convivência e os de comunicação, com destaque para as redes sociais, tendem a funcionar como um grande panótico, a penitenciária imaginada por Bentham no século XVIII. (E deixo aqui de lado o miolo da questão no que respeita à separação de poderes, que também seria fértil campo de análise.) Portanto, também neste plano, o plano executivo, se impõe averiguar, estudar e refletir, não menos do que nos apontados planos legislativo e judicial (entre outros).
Objetar-me-ão talvez ou que tudo isto é muito impreciso ou que não é assim. Impreciso será, não só, porventura além da minha incapacidade de precisão e rigor, por causa da necessidade de respeitar aqui o tempo e tentar meter o Rossio na Betesga, mas também porque, julgo eu, o fenómeno em causa é por definição impreciso e carece de estudo e de aprofundamento, e chamar a atenção para isso é aqui e agora o meu único propósito. Aceito, pois, a possível objeção quanto à imprecisão. Já não aceito que me digam que não é assim. Com mais ou menos precisão, creio ser claro que é assim quanto à publicização, isso é facto público e notório e não carece, pois, de alegação e prova, e creio que quanto às influências que tracei e a outras, poderá pelo menos ser assim, cabendo precisamente tentar saber melhor em que termos.
Mas tenho para mim que não é e não pode ser indiferente este assombro quotidiano sobre questões penais e a consequente construção, em camadas que se consolidam, de um discurso. E não é preciso sermos ainda fiéis a Foucault – com as suas virtudes e os seus defeitos – para saber, como o mesmo bem evidenciou no texto da sua aula inaugural no Collège de France, que a ordem do discurso importa, e importa muito. Claro que para ele e para o seu objeto de estudo tratava-se sobretudo do discurso das forças e das instâncias que impunham uma certa ordem e do discurso construído pelas elites. Mas as coisas mudaram, as coisas deixaram o armário das elites e dos iniciados, e a ordem do discurso é hoje, nestas e noutras matérias, a da praça pública, ainda que amiúde alimentada ou apropriada por alguns iniciados.
E tem tido, tem e terá incidências. Não me parece possível, nem sobretudo saudável, acharmos que não e não nos dedicarmos a estudar o quanto e o como. E tenho para mim que, não descurando a vertente substantiva, as principais incidências se prendem com o processo penal, sobretudo com uma crescente incompreensão ou hostilidade a duas ideias fundamentais: a do processo como narrativa (em lugar paralelo à historiografia, e não preciso de citar por exemplo Paul Ricouer, nomeadamente o de Tempo e Narrativa mas também de História e Verdade), e a da legitimação pelo procedimento, que conduzem à verdade processual e à decisão legítima, que se não confundem nunca com “a verdade”, numa pretensão ontológica (seja lá isso o que for), e muito menos com um pereat mundus fiat justitia. Todavia, os ventos são em certo sentido favoráveis a uma regressão para um tempo pré kantiano, como se consciência e realidade em si mesma não fossem planos separados, e para um tempo que se aproxima de uma ideia de justificar os meios pelos fins, quase incorporando no discurso sobre o processo penal uma ideia de inimigo, como se a velha ideia funcionalista de Jakobs de um Direito Penal a duas velocidades tivesse agora uma aplicação essencialmente processual penal. Mas mais, contaminando essa ideia todo o processo penal, por não ser obviamente possível ter dois, donde todo o processo corre o risco de beber desse veneno. E a melhor ilustração desta ordem do discurso é o mantra do excesso de garantias, que, sem qualquer esforço de fundamentação, faz caminho, assente em meras perceções, amiúde pouco informadas e sempre pouco problematizadas e contextualizadas, decorrentes de episódios concretos em casos concretos.
Já vai longa e excessiva – olhando ao tempo e ao propósito – esta apresentação (na qual obviamente também se nota uma ordem do discurso, claro, que é o meu, a minha visão das coisas, a minha mundividência, o meu Dasein, que é indissociável de tudo). A questão que deixo é, pois, esta, e além de uma exortação – se me é permitido – ao estudo e ao aprofundamento destas questões e de outras que possam estar relacionadas com o que chamei de publicização penal: estaremos no limiar, ou próximos, ou até já um pouco emersos num novo paradigma, deixando para trás o que foi construído nos últimos 50 anos, mais rigorosamente nos últimos 48, a partir da Constituição de 1976? E – afunilando a questão – essa mudança de paradigma não é especialmente iminente (se não já em curso) no campo adjetivo mais do que no substantivo? Crescendo a antipatia pela ideia – profundamente liberal, no sentido de Estado de Direito liberal e democrático, em que liberal, não só vem antes de democrático, como é também fundador da ideia de Estado de Direito – de que o processo penal é a magna carta, não da sociedade (esse papel cabe ao Direito Penal), mas a magna carta do indivíduo, do cidadão imputado. Realmente, a sua barragem contra o Pacífico. Como no romance de Marguerite Duras, construímos – aliás começando bem mais atrás do que em 25 de abril de 1974, podemos remontar pelo menos ao setecentista Beccaria – uma barragem, laboriosamente, e reconstruímos, ano após ano, tentando contrariar o natural ímpeto do mar, e temos persistido nessas construção e reconstrução. O que pode suceder é que percamos, se não estamos já a perder, essa vontade e a consciência da necessidade de manter ou reconstruir a barragem, que é afinal a barragem liberal do indivíduo em face do Estado e/ ou em face da turba; e um e outra podem muito facilmente resvalar para o iliberalismo. Regressando a Esquilo e à Oresteia, onde se diz Pacífico também se poderia dizer as Erínias.
E, para terminar, vai mais longe a minha ousadia, e permito-me deixar a referência a duas obras maiores sobre Penal e Processo Penal, e que muito se relacionam com algumas das coisas que aqui referi brevitais causa. Não são manuais, não são monografias, são romances, um, o primeiro, sobre a importância do processo, do processo verdadeiro e próprio, e da tentação do mero procedimento, e outro sobre o mistério da decisão judicial. São romances, não apenas porque todos os saberes e todos os discursos se cruzam e precisamos da intertextualidade como de pão para a boca, mas também porque não conheço – e sem ofensa – melhores manuais sobre uma coisa e outra: O Físico Prodigioso, de Jorge de Sena, e a Balada de Adam Henry, de Ian McEwan. O primeiro mostra bem como é fácil mandar para a gafaria, fechar a porta e deitar fora a chave, sem mais. O segundo mostra bem como tudo é contaminável e como tudo é difícil.
É este o contributo que aqui deixo para a anatomia de um sistema em transição, tratando-se um tema jurídico, pelo que cabe bem nesta casa, de um tema sistémico, pelo que cabe bem neste evento, e, também, e, muito, de um tema político, no sentido amplo e fundo de organização e vida da pólis, pelo que cabe, julgo eu que muito bem, neste momento e nesta efeméride, os 50 anos de abril. E ai de nós se o não virmos como um tema eminentemente político.